Freddy Ferreira analisa a bateria da Unidos de Padre Miguel no desfile
Bom desfile da bateria “Guerreiros” da Unidos de Padre Miguel, sob o comando do estreante no grupo especial, mestre Dinho. Mesmo consolidado no mundo das baterias e sendo o responsável pela musicalidade já identitária da bateria da UPM, somente agora o carismático mestre recebeu essa oportunidade. Um ritmo com pressão sonora de surdos e com bossas bem conectadas ao belo samba-enredo de vertente africana da agremiação da Vila Vintém.
Na cozinha da bateria do Boi Vermelho, uma afinação poderosa de surdos foi notada, sendo responsável pela pressão sonora na execução e nas retomadas de bossas. Marcadores de primeira e segunda se exibiram com firmeza e segurança. Surdos de terceira deram um balanço bastante envolvente a bateria “Guerreiros” em ritmo e em bossas. Repiques coesos se apresentaram junto de um naipe de guerras sólido e ressonante. Atabaques vieram na parte de trás do ritmo, sendo utilizado com brilho sonoro em paradinhas junto de agogô com uma campana (boca).
Na parte da frente do ritmo da UPM, uma boa ala de cuícas se uniu a um naipe de agogôs que tocou com eficiência. Uma ala de chocalhos de imensa qualidade e virtude sonora se exibiu interligada a um naipe de tamborins com talento técnico. Desenhos rítmicos de chocalhos e tamborins foram um dos pontos altos das peças leves. O trecho “Toca o Adarrum” merece a menção musical pela nítida integração, que também conta com um movimento bem swingado dos surdos de terceira, demostrando uma conjugação sonora de alto valor musical.
Um leque de bossas com boa musicalidade e dinamismo foi exibido. Arranjos entrosados com as variações melódicas da obra da escola, se aproveitavam da pressão de surdos para dar impacto sonoro às bossas. Um conjunto de paradinhas muito bem integrado ao tema de matriz africana da agremiação, plenamente conectado ao enredo. Na última cabine julgadora, demonstrando estar com a bateria na mão, mestre Dinho lançou até sua carta na manga energética, que foi largar a segunda passada do estribilho para o público e encerrar com a bossa 7.
Uma boa apresentação da bateria “Guerreiros” da UPM, dirigida por mestre Dinho. Um ritmo com impacto sonoro, equilíbrio e boa musicalidade em bossas, que recebeu certa ovação popular na última cabine de julgamento, comprovando o bom trabalho realizado pela bateria da Unidos abrindo os desfiles do grupo especial. O único fato a ser lamentado ficou por conta do som da Avenida que acabou sendo inconstante em alguns trechos do cortejo, além do carro de som estar com a voz do cantor principal bastante elevada no último julgador.
Grupos cênicos da Mangueira dão vida à ancestralidade através da arte
Com o enredo sobre a ancestralidade e o legado dos povos bantus que chegaram ao Rio de Janeiro, a Estação Primeira de Mangueira levou à Marquês de Sapucaí três alas de grupos cênicos com muita dança e historicidade na cabeça da escola durante o desfile, transformando a avenida em um verdadeiro teatro a céu aberto com muita identidade e resistência.

Diferente das alas tradicionais, os grupos cênicos desempenham um papel fundamental na apresentação da narrativa do desfile. A Mangueira que historicamente traz mensagens sociais e encenações que causam bastante impacto. O primeiro grupo cênico da escola, chamado de ‘’Os guardiões da ancestralidade’’, retrata a ancestralidade bantu que cruzaram a Kalunga, protegendo os valores, histórias e tradições desse povo. Com máscaras sagradas e um figurino adornados com conchas, corais, cores lilás e rosa, detalhes em palha e cabeça que remetem à madeira.
Posicionada nas laterais e na parte de trás, o grupo funcionou como guardião da ala das baianas que estavam no meio. Com movimentos para um lado e para o outro e alguns giros durante trechos do samba.

‘’É a primeira vez que eu tô desfilando pela mangueira e a primeira vez que eu tô entrando na Sapucaí como componente de escola. É uma emoção muito grande, porque é a primeira vez que eu tô desfilando e já desfilando em uma ala grande. A gente está representando as Inquices e os Egunguns, que são como orixás da cultura Bantu’’, comenta Thais, confeiteira e componente da ala, de 38 anos.
O segundo grupo cênico intitulado de ‘’O sopro que guia a passagem’’ transformou a avenida em uma verdadeira Kaiango, uma inquice que controla o trânsito dividido pela Kalunga no Cosmograma Bakongo, governado entre os caminhos entre o mundo físico e espiritual. ‘’Toda uma ancestralidade porque a gente vai representar os ventos de Matamba e eu por ser feita de Matamba, de Angola, do povo de Congo. Para mim é muita representação, estou representando aqui principalmente o meu pai que era um mangueirense doente’’, declara a técnica de segurança do trabalho, Sandra Lucia, de 46 anos. A fantasia evoca de forma poética o movimento dos ventos e dos sopros, que saem dentro de uma máscara banta, roupas com estampas em tons de rosa.
Já o terceiro grupo, ‘’Morte e vida’’ encerra a transição entre a morte e a vida para contar as histórias dos povos bantus já habitantes do Rio de Janeiro, se dividindo em dois através das cores branco e preto, extremidades da horizontais do Cosmograma Bakongo unidos pela Kalunga. ‘’Uma ala que para mim tá sendo muito especial porque é coreografada, é de uma coreógrafa, que vem contando a história de morte e vida, é uma relação com matamba e o enredo todo da mangueira também. Estou achando muito especial falar do povo bantu, enquanto a gente tem várias outras apresentações, neste ano é legal a Mangueira trazendo outras vertentes de outras populações africanas’’, diz Camila, de 36 anos, sou assistente de produção e primeira vez saindo pela mangueira.
Com roupa preta, detalhes em búzios, moicano de plumas na cabeça e pinturas no corpo com giros e danças afro.
Os ensaios das alas coreografadas começam com bastante antecedência e são bastante intensos. A componente Camila finaliza dizendo que ‘’‘A nossa ala está ensaiando desde dezembro, duas vezes por semana, além do ensaio de rua e os ensaios técnicos. Tem sido que teve algum ensaio separado, assim, Sim. A gente teve desde dezembro dois ensaios duas vezes por semana, terça e quinta, só da nossa ala, para pegar a coreografia, limpar e tudo mais.”
A Influência dos Povos Bantos na Celebração do Ano Novo: ala de Mangueira une religiosidade e cultura popular
Os bantos, povos originários da África Central, trouxeram consigo práticas religiosas e culturais que se fundiram com outras tradições no Brasil, dando origem a manifestações como a Umbanda. Um dos principais nomes dessa herança é Tata Tancredo, pai de santo que popularizou as celebrações de Ano Novo nas praias cariocas. Vestidos de branco, cor associada à paz e à espiritualidade nos terreiros, os praticantes dos Omolocôs (cultos bantos) realizavam rituais de transição, marcando a passagem para um novo ciclo. Essa prática, inicialmente religiosa, foi se popularizando e hoje é adotada por milhões de pessoas, muitas vezes sem que saibam sua origem.
André Pretz, 30 anos, vendedor e integrante da Mangueira, conta que não sabia da relação entre a celebração do Ano Novo e a cultura banto. “A gente descobre agora, através do enredo. É uma coisa que a gente faz automaticamente, mas não sabe de onde veio”, diz ele. André revela que, em alguns anos, passa a virada na praia, seguindo rituais como pular ondas e vestir branco. “Isso é primordial para todo mundo aqui no Rio. A gente sabe que vem de uma prática religiosa, mas nem todo mundo entende o significado”, reflete.
O uso do branco, símbolo de pureza e renovação, é um dos elementos mais marcantes da celebração do Ano Novo no Rio. Essa prática, que tem origem nos terreiros, foi incorporada pela população em geral, independentemente de sua religião. Além disso, rituais como pular ondas, oferecer flores ao mar e comer uvas têm significados profundos na cultura banto, relacionados à purificação e à busca de boas energias para o novo ciclo.
A celebração do Ano Novo na praia é um exemplo de como práticas religiosas podem transcender seus contextos originais e se tornar parte da cultura popular. No entanto, essa apropriação também levanta questões sobre o respeito e o entendimento das origens dessas tradições. Para muitos integrantes da Mangueira, o enredo deste ano é uma oportunidade de promover o diálogo interreligioso e valorizar a diversidade cultural.
A celebração do Ano Novo no Rio de Janeiro é muito mais que uma festa: é um momento de conexão com as raízes africanas que moldaram a cultura brasileira. O enredo da Mangueira, ao resgatar essa história, nos convida a refletir sobre o valor do diálogo interreligioso e a importância de conhecer e respeitar as tradições que formam a identidade carioca.
Grupos cênicos da Mangueira dão vida à ancestralidade através da arte
Com o enredo sobre a ancestralidade e o legado dos povos bantus que chegaram ao Rio de Janeiro, a Estação Primeira de Mangueira levou à Marquês de Sapucaí três alas de grupos cênicos com muita dança e historicidade na cabeça da escola durante o desfile, transformando a avenida em um verdadeiro teatro a céu aberto com muita identidade e resistência.
Diferente das alas tradicionais, os grupos cênicos desempenham um papel fundamental na apresentação da narrativa do desfile. A Mangueira que historicamente traz mensagens sociais e encenações que causam bastante impacto. O primeiro grupo cênico da escola, chamado de ‘’Os guardiões da ancestralidade’’, retrata a ancestralidade bantu que cruzaram a Kalunga, protegendo os valores, histórias e tradições desse povo. Com máscaras sagradas e um figurino adornados com conchas, corais, cores lilás e rosa, detalhes em palha e cabeça que remetem à madeira.
Posicionada nas laterais e na parte de trás, o grupo funcionou como guardião da ala das baianas que estavam no meio. Com movimentos para um lado e para o outro e alguns giros durante trechos do samba.
‘’É a primeira vez que eu tô desfilando pela mangueira e a primeira vez que eu tô entrando na Sapucaí como componente de escola. É uma emoção muito grande, porque é a primeira vez que eu tô desfilando e já desfilando em uma ala grande. A gente está representando as Inquices e os Egunguns, que são como orixás da cultura Bantu’’, comenta Thais, confeiteira e componente da ala, de 38 anos.

O segundo grupo cênico intitulado de ‘’O sopro que guia a passagem’’ transformou a avenida em uma verdadeira Kaiango, uma inquice que controla o trânsito dividido pela Kalunga no Cosmograma Bakongo, governado entre os caminhos entre o mundo físico e espiritual. ‘’Toda uma ancestralidade porque a gente vai representar os ventos de Matamba e eu por ser feita de Matamba, de Angola, do povo de Congo. Para mim é muita representação, estou representando aqui principalmente o meu pai que era um mangueirense doente’’, declara a técnica de segurança do trabalho, Sandra Lucia, de 46 anos. A fantasia evoca de forma poética o movimento dos ventos e dos sopros, que saem dentro de uma máscara banta, roupas com estampas em tons de rosa.

Já o terceiro grupo, ‘’Morte e vida’’ encerra a transição entre a morte e a vida para contar as histórias dos povos bantus já habitantes do Rio de Janeiro, se dividindo em dois através das cores branco e preto, extremidades da horizontais do Cosmograma Bakongo unidos pela Kalunga. ‘’Uma ala que para mim tá sendo muito especial porque é coreografada, é de uma coreógrafa, que vem contando a história de morte e vida, é uma relação com matamba e o enredo todo da mangueira também. Estou achando muito especial falar do povo bantu, enquanto a gente tem várias outras apresentações, neste ano é legal a Mangueira trazendo outras vertentes de outras populações africanas’’, diz Camila, de 36 anos, sou assistente de produção e primeira vez saindo pela mangueira.

Com roupa preta, detalhes em búzios, moicano de plumas na cabeça e pinturas no corpo com giros e danças afro.
Os ensaios das alas coreografadas começam com bastante antecedência e são bastante intensos. A componente Camila finaliza dizendo que ‘’‘A nossa ala está ensaiando desde dezembro, duas vezes por semana, além do ensaio de rua e os ensaios técnicos. Tem sido que teve algum ensaio separado, assim, Sim. A gente teve desde dezembro dois ensaios duas vezes por semana, terça e quinta, só da nossa ala, para pegar a coreografia, limpar e tudo mais’’.
Imperatriz Leopoldinense resgata enredo afro e retrata a resistência de Oxalá no Carnaval 2025
No ano em que a intolerância religiosa e o racismo estrutural ainda desafiam a sociedade brasileira, a Imperatriz Leopoldinense decidiu usar o Carnaval como palco de resistência e celebração da cultura afro-brasileira. Com o enredo “Ómi Tútu ao Olúfon – Água fresca para o senhor de Ifón” que retrata a jornada de Oxalá, uma das principais divindades do panteão iorubá, a escola de samba trouxe para a avenida uma narrativa que mistura fé, tradição e luta, emocionando o público e reafirmando a importância da representatividade religiosa e cultural.

José Carlos, 46 anos, vendedor e veterano da Imperatriz há 30 anos, desfilou com orgulho na ala que representava o momento difícil de Oxalá, quando a divindade ficou suja de carvão durante sua jornada ao reino de Xangô. “A gente veio pra brigar, com raça e muito samba no pé. Essa ala representa a dificuldade de Oxalá, mas também a superação. As fantasias estão no nível mais alto, e estamos aqui para brigar pelo primeiro lugar”, afirmou. O figurino, inspirado nas vestes tradicionais de Oxalá, foi cuidadosamente elaborado para manter as referências ao orixá, mesmo sujo com o carvão que simboliza suas provações.
Ana Carolina Aquino, 37 anos, Yalorixá e estreante na Imperatriz, destacou a riqueza simbólica do enredo. “Nossa ala traz o imagético de Oxalá sujo de carvão, mas também elementos como o sal, que são kizilas (proibições) de Oxalá. Usamos o Opaxorô, o cajado de Oxalá, que aqui está sujo de preto, representando o carvão. Mesmo na cor que não é tradicionalmente dele, reconhecemos o orixá”, explicou. O Opaxorô, instrumento sagrado que simboliza a força e a sabedoria de Oxalá, foi um dos elementos centrais da ala, reforçando a conexão entre o enredo e a espiritualidade.

Para Ana Carolina, desfilar pela Imperatriz foi uma experiência emocionante e cheia de significado. “Eu sempre fui torcedora da Imperatriz. Meu pai era um homem de Xangô e Oxalá, e ele torcia por essa escola. Estar aqui realizando esse sonho, pensando nele, é maravilhoso”, compartilhou. A Yalorixá também ressaltou a importância da Imperatriz trazer um enredo afro em um momento de tantos desafios. “Em 2025, com tanta intolerância religiosa e discursos de ódio, a Imperatriz trazer isso é resistência, resiliência e força. É uma luta contra o racismo religioso que ainda precisamos enfrentar”, afirmou.
O enredo da Imperatriz Leopoldinense não apenas celebrou a cultura afro-brasileira, mas também reforçou o papel do Carnaval como espaço de resistência e afirmação identitária. Em um ano marcado por polêmicas e ataques às religiões de matriz africana, a escola mostrou que a arte e a cultura podem ser poderosas ferramentas de afirmação dos saberes ancestrais de sua comunidade.
Alas da Mangueira retratam os povos Bantus e sua influência na culinária Carioca
A culinária carioca, tão diversa e cheia de temperos, carrega traços profundos da influência africana, especialmente dos povos bantus. Originários da região que hoje abrange países como Angola, Congo e Moçambique, esses povos foram majoritariamente trazidos ao Brasil como escravizados a partir do século XVI. No Rio de Janeiro, sua cultura se mesclou com a indígena e a portuguesa, resultando em uma gastronomia rica e cheia de história.
Os povos bantus foram os primeiros africanos a chegar ao Brasil e, no caso do Rio de Janeiro, sua presença foi marcante. Além da forte influência linguística, os bantos deixaram um legado forte na música, na religiosidade e, principalmente, na cozinha.
As alas da verde rosa ‘’Um banquete de angu’’ e ‘’Quem come quiabo não pega feitiço’’, retratam a riqueza histórica e cultural desses alimentos na mesa das famílias do Rio de Janeiro.
Uma das marcas mais evidentes da influência banta, o angu é um prato feito de fubá de milho que se tornou popular entre as camadas mais pobres da população brasileira e, mais tarde, foi incorporado a pratos como o “angu à baiana”, bastante consumido na culinária carioca.
‘’O angu, por conta do angu a baiano, todo carioca gosta de comer, é tradicional da nossa cidade também, apesar de não ser daqui, mas é a tradicional da nossa cidade, então está super bem representado. Minha avó que vendia angu a baiana aqui nessa época, lá nos Correios aqui perto do sambódromo. Ela era baiana e vendia angu aqui. Estar aqui significa que eu tô representando ela, que era mangueirense, que era baiana, era vendedora de angu, eu estou representando ela aqui também na nossa escola’’, relata emocionada a jornalista Joana Cunha, de 45 anos, componente da escola há 5 anos.

Em muitos cantos da cidade é possível encontrar o alimento, principalmente à venda na região central da cidade, que historicamente foi o local de chegada e moradia dos povos bantus e reflete até hoje na cultura gastronômica do Rio de Janeiro.
‘’O angu representa de uma forma, que por exemplo, aqui na Central do Brasil vende o famoso caldinho que a gente sempre gosta. É uma cultura do Rio de Janeiro, que é do carioca, de tomar um gelo, tomar um caldinho. E hoje a mangueira tá trazendo esse enredo, eu tô extasiada por ser a primeira vez e tô muito feliz por representar a minha cidade. Eu amo angu. Com alho , com frango, eu amo tudo. Sou uma verdadeira carioca’’, declara Monique, empresária de 39 anos que desfilou pela primeira vez na Estação Primeira de Mangueira.

Outro ingrediente diretamente da cozinha banta e fortemente presente na vida e nos pratos dos cariocas, é o quiabo. Um vegetal que tem a baba como sua característica principal, sendo muito utilizado na preparação com outras comidas, como o frango, e até mesmo como o famoso ‘’tira gosto’’, forma que é chamado petiscos para acompanhar as bebidas, principalmente a cerveja.
‘’Não sabia dessa informação antes do desfile sobre quando foi escolhido como tema da ala e é só um alimento que eu gosto bastante. E é um alimento que ele é muito representativo da cultura negra carioca. Desde pequeno eu como quiabo porque tem receita de família de frango com quiabo’’, relata André, de 27 anos, estreante no desfile da verde e rosa.
Até mesmo quem não é carioca, mas vive na cidade do Rio de Janeiro, tem vivências com o alimento. A baiana Kaline Assis, médica de 39 anos e está na Sapucaí com a escola pela primeira vez, afirma que ‘’Eu, como uma baiana sabia da questão da relação através de um ditado do candomblé que diz que quem come quiabo não pega feitiço, e foi por isso que eu escolhi essa ala, eu fui ler algumas coisas e descobri outras coisas acerca também dizendo de que o quiabo não é só uma culinária, mas é como se fosse algo espiritual também para eles, quando eles comem eles se sentem protegidos’’.

Os escravizados bantus eram majoritariamente trabalhadores das lavouras, das cozinhas dos senhores e dos mercados urbanos. Adaptando ingredientes locais às suas tradições, deram origem a pratos que, até hoje, fazem parte do cardápio carioca.
O coração pulsante da Viradouro: A comunidade que move o Carnaval
A Unidos do Viradouro desfilou na madrugada de domingo para segunda com o enredo “Malunguinho: o Mensageiro de Três Mundos”, sobre o líder quilombola do século XIX, hoje cultuado em religiões afro-indígenas. Lutando pelo bicampeonato, a escola apresentou, nos ensaios, uma excelência técnica que lhe garantiu a alcunha “patamar Viradouro”. Pouco antes do começo do desfile, o CARNAVALESCO conversou, na concentração, com componentes sobre sua relação com a escola de Niteroi.
“Fazer parte da comunidade da Viradouro é tudo de bom. A Viradouro é como se fosse um refúgio. Eu me sinto em casa, literalmente. Eu costumo dizer para todo mundo que eu que eu moro na Viradouro e visito a minha casa. Para mim, é uma verdadeira terapia, uma coisa que faz a minha cabeça, a minha mente ir para um lugar e ficar muito boa”, disse a estudante Mirella Santos, de 17 anos, em seu terceiro carnaval pela Viradouro.

“Comecei desfilando na Viradouro com 8 anos de idade. A coisa mais linda que eu acho na minha vida é participar. É muito bom, a gente esquece todos os problemas. Eu adoro. A garra da nossa comunidade é maravilhosa, todo mundo se dá muito bem”, enalteceu a cozinheira Ana Maria dos Santos, de 72 anos.

Um dos mais aguerridos do carnaval em dias atuais, os torcedores da vermelho e branco de Niteroi marcaram presença, ao longo do ano, nos eventos da escola, que se iniciaram por volta de setembro e culminaram no desfile de março.
“Eu fui em todos os ensaios de rua, tanto de rua, tanto de quadra. Fui nessas disputas de samba, eu estava em tudo. Em um dos ensaios, tinha um telão que apresentava para gente as fantasias e a história através da fantasia. É importante frequentar a escola para ir criando aquele laço e saber o que está se passando. Para começar a entender o samba, o que você está cantando. Não só falar da boca para fora”, explicou Mirella.
“Todo domingo estávamos na Amaral Peixoto fazendo um ensaio perfeito, mostrando a força da Viradouro. A presença da comunidade, a presença que nós sentimos durante os ensaios, é algo muito bom”, relembrou o autônomo estreante na escola Kauã, de 21 anos.

A sensação do grande dia, porém, supera a de qualquer outro.
“Pisar na avenida é uma sensação única. Toda vez parece que é a primeira vez. O coração dispara, dá vontade de chorar, fico muito ansiosa. Parece que o coração para. É uma sensação muito boa”, descreveu Mirella.
“Todo ano é como se fosse meu primeiro na Viradouro. Já entro em lágrimas e termino em lágrimas. Estou até arrepiado agora. A emoção é muito forte. Essa escola é tudo para mim. Amo a Viradouro”, declarou o fotógrafo Jorge Luiz, conhecido como Jorginho da Viradouro, de 59 anos. Jorge desfila há 33 anos pela Viradouro.

“Quando eu entrar na avenida, vai ser um um sentimento muito bom, bonito. Pretendo levar esse título por mais um ano. Vai depender de Deus. Sem ele nós não conseguimos levar, mas ele vai dar força para a gente levar mais esse título para Niterói”, garantiu o funcionário público José de Oliveira, de 64 anos, que desfila há 10 pela Viradouro.
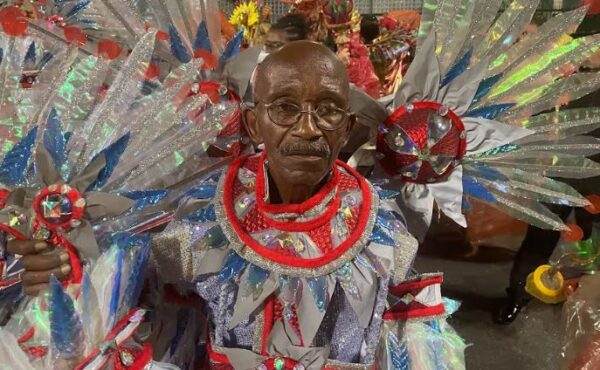
De fato, a comunidade é o coração pulsante de uma escola de samba. Bateria, baianas, comissão de frente… Nada se sustenta sem o apoio de cada componente.
“Antes de preparar um carnaval, preparar o desfile, precisa preparar a comunidade. Sem a comunidade não tem desfile. A comunidade é uma peça muito importante. O canto da comunidade é aquilo que move o público”, defendeu Kauã.
“O que diferencia a Viradouro é sua comunidade. É o chão que ela tem. Em respeito a todas as coirmãs, mas nosso chão é muito forte. Uma escola sem comunidade, não chega a lugar nenhum. Em respeito a todos os segmentos da escola, mas a comunidade é o ponto forte”, finalizou Jorge.
Do Samba ao Funk: A Corporeidade Negra que Dança e Resiste no Carnaval da Mangueira
Com o enredo “À Flor da Terra, no Rio da Negritude entre Dores e Paixões”, desenvolvido pelo carnavalesco Sidnei França, a Mangueira fez uma celebração das sonoridades que ecoam pelas ruas da cidade. Ritmos como o samba e o funk foram apresentados como exemplos do legado bantu e das estratégias de recriação do cotidiano da negritude.

Em entrevista ao CARNAVALESCO, Luiz Antonio Simas, historiador e componente da quarta alegoria, falou sobre a semelhança entre duas das mais populares manifestações culturais cariocas. “O samba e o funk tem uma semelhança evidente porque são oriundos das populações afro-cariocas”, afirmou o historiador que relembrou do processo de marginalização do samba no início de século XX: “Se a gente pega o samba na década de 10 ou 20, a gente percebe que o samba era criminalizado pela vigência da lei de vadiagem. Samba era coisa de vadiagem. João da Baiana foi preso porque estava com um pandeiro e o pandeiro dele foi considerado a prova do crime, a prova da vadiagem”.

Para ele, o funk, assim como foi com o samba, passa por um processo de criminalização e se reinventa por construir sentidos a partir da corporeidade da negritude. “O funk passa por um processo de criminalização muito parecido com o que aconteceu com o samba, porque é um contexto mais amplo de criminalização das manifestações das populações afro-cariocas. Agora, da mesma maneira com o samba, o funk foi se reiventando”, afirmou.
Para Leda Maria Martins, escritora e professora, a criminalização das manifestações culturais negras são cíclicas. Sob argumentos de que esses ritmos fazem apologia às drogas, à pornografia e à violência, as culturas negras são demonizadas. Na contramão, o samba e o funk recriam um corpo que dribla o escopo determinado da marginalização. “Basta você dar uma olhada aqui pelo Sambódromo. Dá uma olhada no no movimento do corpo carioca, do corpo em geral do corpo brasileiro e, principalmente, do corpo negro do brasileiro. É uma corporeidade dinâmica, dançante, bailarina. É uma elasticidade do corpo, uma disponibilidade do corpo para o movimento, para a criação e para a memória do conhecimento. É um modo alternativo de escrever o conhecimento”, concluiu.
Jonny Santos, de 31 anos, componente da ala 20, lembra que a marginalização foi um modo de circunscrever a corporeidade negra nos limites da branquitude. “O nosso corpo fala o tempo inteiro, nos movimentos, na forma como conduz o andar, os gestos dos braços, das mãos, ele está falando o tempo todo. Os movimentos perseguidos são movimentos onde o corpo do negro está falando de uma forma diferente da forma permitida pelo branco colonizador”, afirmou o componente da ala 20 que vem representando o funk carioca dos anos 70.

A Mangueira não apenas celebrou as sonoridades que ecoam pelas ruas do Rio de Janeiro, mas também destacou a resiliência e a capacidade de reinvenção das culturas negras. No Marquês de Sapucaí, a verde e rosa contou uma história de luta, paixão e resiliência, mostrando que a cultura negra, seja através do samba ou do funk, é uma força viva e pulsante que não pode ser silenciada.
Mangueira Carnaval 2025: galeria de fotos do desfile
CLIQUE EM CADA IMAGEM PARA AMPLIAR A FOTO












































































